Everything was soundless. Objects could not speak anymore, except through the arts.
“No primeiro ato estava em um parque cheio de estátuas, e eram homens nus que tinham que ficar imóveis todo o tempo. Eu também era uma das estátuas. Eu sabia que se me movesse, receberia uma grave punição, porque nosso mestre e senhor nos olhava pessoalmente. Sentia o frio gélido que saía do pedestal de mármore, enquanto as folhas do outono caíam sobre meus braços e corpo. Eu não me movia. Mas quando senti que não resistiria, eu acordei. Eu tinha medo, porque entendi que não era um sonho, mas a minha realidade.”
[Nostalgia - Tarkovsky]
Outro dia saí na rua povoada. Não saberia bem explicar a razão de tanta gente naquele lugar. Eu penso que uma duas ou três pessoas ali faziam com que muitas estivessem também. Não atravessei com dificuldade, pois não era uma multidão. Pensando bem, era poucas, quantidade necessária para que eu cumprimentasse todas elas. Eu não reconheci. Pois, fora de mim, não me encontrei por lá. E isso tudo é bastante estranho já que estou em vários lugares, não tenho problemas com espaços onde nunca estive. Mas lembro que a sensação era de um incômodo nunca antes apresentado, queria correr, fugir, achei que não me entenderiam. Lembro da imagem que saltou na minha cabeça: alguns familiares e eu estávamos em volta de uma fogueira. Sentados em cadeira de praia, derretendo marshmallows, recheando bolacha. Era o quintal de uma casa no centro de uma cidade canadense, meio da tarde, pouco espaço. Por causa da casinha de ferramentas do pai, das plantas da mãe e do trampolim das meninas. Entretanto não são essas coisas que importam agora, mas a voz da minha mãe. Sei que me calava, não acho que aparentava estar aéreo, mas o fato é que ela parou a conversa para tentar clarear a realidade: “you don’t have to stay.”. O som da frase confrontou minha face. Vi o monte de letras arremessadas em minha direção, colidindo meu nariz, olhos e testa. Eu não sabia o que responder, sentia vergonha, eu tinha quinze anos. Permaneci calado, observei todo mundo. Achei que o certo seria sair de lá, não via alternativa. Atravessei a casa, calcei os sapatos, vesti um casaco, abri a porta. Diferente do Recife, nas ruas de Red Deer não há transeunte. Vaguei quilômetros sozinho, olhando o entorno de lojas cujo público era sempre muito quieto. Contido, sabia que não era frio, mas eu me olhava, entendia da interferência daquele corpo só transitando no centro deserto. No dia da rua bem frequentada, tão perto de tantos olhos e mãos que apontam, eu parecia não existir.
04 de dezembro, 2018. Estava voltando pra casa, era início da noite. Na penúltima esquina me deparo com uma escada deitada no chão. Uma escada de madeira preta com as tábuas dos andares irregulares. A composição esquina e escada era nova no meu percurso. Ninguém descarta uma escada. Não deve ser desse prédio cujo muro deixa claro a não vontade de se relacionar com a calçada. Duvido que alguém que more nele tenha deixado a escada ai por alguns minutos esperando; isso não me parece ser uma probabilidade. Mas por que a escada está lá na esquina? Pelo tamanho, se colocar na vertical talvez dê pra chegar perto do limite do muro. Não. Ninguém usaria a escada pra pular o muro desse prédio. Até por que no topo do muro de um prédio desses... Claro. Tem uma cerca elétrica! Não acho que algum funcionário-técnico tenha utilizado uma escada de madeira preta com andares irregulares para consertar uma cerca elétrica. Quando as coisas estão deixadas assim na rua, com um certo cuidado de encostar o objeto na parede, só pode ser de um mendigo. Os mendigos têm o direito de configurar a cidade sendo sua casa. Uma coisa é colocada na esquina, outra naquele beco, algo naquela rua como se colocasse cama no quarto, sofá na sala e xampu no banheiro. Senti uma boa relação com a imagem da escada na esquina e continuei caminhando com ela. Havia uma convocatória para exposição em Guarulhos, os artistas enviavam trabalhos em pequenos formatos pelos correios e eles entrariam na exposição; sem júri, sem seleção. Então pensei em enviar um díptico: um desenho de uma escada vertical no centro do papel e embaixo escreveria “escadarrua”; no outro papel a escada seria horizontal e escrito “escadaesquina”. Esses processos de exposição, quando não há seleção ou quando convidam o artista, nos possibilitam realizar nossos maiores e mais simples desejos.
07 de dezembro, 2018. É a segunda noite que o vejo dormindo ali, na frente do açougue que fecha cedo. Ontem ele era um corpo deitado num colchão. Tinha um travesseiro e as suas coisas todas ao lado. Não consegui ver quem era. Hoje, acho que ele tentava dormir, mas havia outro homem de pé que o olhava. Ambos calados. Cheguei a achar que o que estava em pé queria esperar eu passar; fiquei atento à situação. Mas ele, o mesmo corpo de ontem, deitado no colchão me olhou nos olhos. Ele tinha uma face sofrida, feição de quem sente dor silenciada. Ele tinha o rosto de meu pai. Era uma versão mais velha dele. Meu pai, que não mora nessa cidade e que sei tão pouco sobre sua rotina; sempre que me olha, percebo: eu tenho o olhar sofrido de meu pai. Eu vi o homem meu pai e eu. Éramos trindade. E me imaginei abrigando essa outra parte de nós, como hospedei meu pai quando ele me visitou. Ele dormiria no colchão ao lado do meu. Provavelmente cedo por não ter com o que se distrair e acordaria antes de mim, caçando algum serviço na casa. Como se estivesse em dívida pela hospedagem e quisesse retribuir. Pela manhã eu faria café e não saberíamos sobre o quê conversar. Ele tomaria o café em dois minutos e iria mexer em tudo. O que não precisasse de conserto, ele certamente teria alguma ideia de melhorar. Eu só ficaria repetindo “deixa isso ai” “não precisa” “eu resolvo depois”. Quanto tempo ficaria? Não sei. Se é que iria embora... Também não sei se aceitaria o convite. Caso aceitasse, eu convidaria novamente meu pai e nós três daríamos voz as nossas dores. Nós três no mesmo ambiente ativaríamos algo no mundo. Não faríamos nada, não tentaríamos mudar sequer qualquer coisa. Entretanto algo teria de acontecer. Se é que perceberíamos. Mas eu sou covarde. Eu sou o homem meu pai e eu.
08 de dezembro, 2018. Hoje decidi que sairia de casa para acabar de ler um livro. É sábado e eu tinha que enviar um envelope. Os correios ficam bem na frente da praça. Decidi que passaria lá, nos Correios, e depois viria à praça ler. E assim fiz. Procurei uma mesa nos bares da praça. Analisei todas procurando o lugar onde eu ficaria mais sossegado. Dei uma volta ao redor do lugar e me sentei sem pensar muito na cadeira de madeira. Já que tinha me sentado e só me dado conta disso depois, decidi que ficaria por aqui mesmo. Onde estou até agora. Uma senhora gentil veio até a minha mesa e me perguntou se eu queria algo para comer, eu respondi que para beber. Perguntei ainda se ela tinha cardápio, mas ela logo me respondeu que não tinha, mas foi me falando as várias marcas de cerveja que ela tinha. Perguntei se tinha caipirinha, ela me falou que não tinha não, mas que no bar ao lado tinha sim. Ela gritou para a dona do bar ao lado confirmando a informação. Eu pedi a caipirinha e fiquei por aqui lendo Caio Fernando Abreu. A caipirinha era forte, muito forte, e bem melhor do que eu esperava. Vez ou outra a senhora passava na minha frente para atender os outros clientes e então, quando acabei a leitura, passei a observá-la. Ela devia ter uns 60 anos. Tinha cabelos grisalhos / cinzas e usava um vestido florido. Milhares de florzinhas, tão pequenas. A senhora ia pra lá e pra cá descalça. Sempre sorridente, brincava com os homens que bebiam na outra mesa; quatro homens e várias garrafas de cerveja sobre a mesa. Então um homem mais velho chegou e se sentou à mesa outra, entre a minha e a dos quatro homens. Os homens cumprimentaram o velho o chamando de professor. A senhora também o chamou de professor. E um e outro transeunte da praça gritava “professor!”. Ele levantava o braço em cumprimento. A senhora lhe trouxe uma garrafa de cerveja e o professor observava tudo ao redor. Depois de alguns goles ele pediu água mineral. A senhora rapidamente lhe trouxe uma garrafa. Sei que já está perto das 17:30, pois começa a escurecer. Não quero pensar no que farei depois daqui, pois me sinto bem aqui. Agora uma vendedora de amendoins para na mesa do professor. Ela diz alto: “já que você não vai comprar, pelo menos ajuda na caixinha de natal!”. Ele ajudou, pois pegou a carteira e ficou organizando as coisas nela quando a vendedora se foi. Os quatro homens da outra mesa pediram a saideira faz um tempo já, mas continuam lá. Eu também terminei minha caipirinha há bastante tempo e continuo aqui. Os quatro homens gritam, com a senhora ao lado deles: “Professor! Explica ai pra ela o porquê daquela música do Caetano em que ele diz que dois mais dois são cinco!”. O professor responde direcionando a fala à senhora: “dois mais dois são cinco é uma metáfora”. A senhora e os homens concluem uníssono: “Ah, é uma metáfora”. Eu registrava esse momento quando o professor virou e falou pra mim:
— Você é o filho de Luiz?
— Não, não.
— Você parece muito o filho de Luiz.
— Por quê? Ele mora aqui por perto?
— É. Aqui no Altiplano.
Luiz era da polícia militar e ele tem um filho que se parece com você.
— Ah, sim.
— Desculpe ai, viu.
— Nada, tudo bem.
— É uma música que você está escrevendo é?
— Não, não.
O professor virou e continuou a observar tudo na praça, com sua garrafa de cerveja ao lado da garrafa de água. E eu percebo que escureceu e que já é hora de voltar. No bar todos são amigos momentâneos. Eles, os quatro homens e o professor, enquanto vou embora, começam uma conversa, sem fronteiras entre uma mesa e outra, sobre política.
A Damien Hirst’ Dialogue.
From the Turner Prize film, 1992.
— I love you, what you want me to say?
— Why do you have to say in situations like this? Why does it have to be so...
— Oh God, I always say it!
— You don't! You only say it when we have these silly conversations.
— You can't just think… picking these examples and come out with them about who said it nine times yesterday and who said eight times the day before…
— I don't want it to be like… I don't mean to be like that at all.
— I love you, I love you.
— Do you really love me?
— Yeah, of course, I do.
— Really?
— Of course I do. I'm saying that to you.
20 de dezembro, 2018. Esta noite quase não dormi, vieram pensamentos tumultuados de uma preocupação pelo já dito. Também pelo que estava sendo dito. Eram pensamentos sobre uma dificuldade de comunicação, de entendimento. Tudo me assombrava: frase e imagem. Eram construções de fala que não conseguiam dizer. Acabavam como cacos de vidro espalhados no solo. Fragmentos de um discurso que tinha sido quebrado no momento em que se formava. O pronunciamento nunca atingia sua finalidade, ele se desmanchava no meio do caminho. Soltura; nada amarrado. Mesmo antes de qualquer interação com outrem. Era como um pesadelo. Mas me acompanhava numa espécie de insônia desacreditada. Acordado ou não, ele, pesadelo-pensamento, se fazia presente. Talvez houvesse delírio e por um tempo achei que tinha resolvido. Acordei, levantei, continuei meu dia e ainda há incômodo.
Os cabelos que saíam dos móveis e se proliferavam no meu quarto também o faziam no meu atelie. Costumeiramente eu deixava alguns desenhos em processo de reflexão no chão, para observá-los. A minha surpresa é que o montante de pelo, aqui em menor quantidade, começou a tomar os desenhos como mato.
Os fios de cabelo se confundiam com os traços em giz de cera.
Amálgama.
Meu dente foi de encontro ao mármore e despedaçou-se por completo.
De um lugar muito alto joguei minhas palavras ao chão. Umas em cima das outras formaram essa montanha.
Sinto saudade da lança de ouro que cravasse na minha nuca. Atravessada, perfurou a pilha de papel carbono que ali eu dispunha.
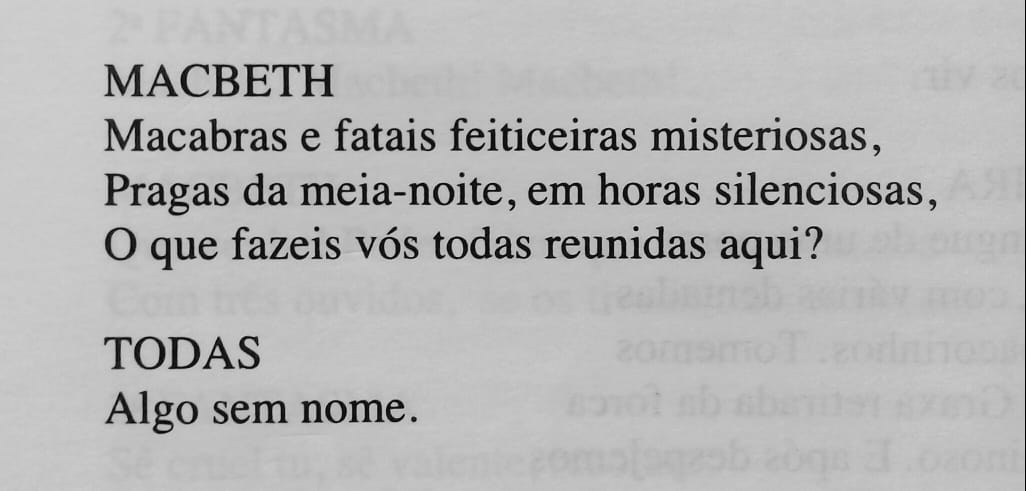

Tantas vezes relutei a ideia de contar o ocorrido. E se passaram muitos anos desde a primeira tentativa de registrar. O que lembro é que era uma manhã de domingo e eu, sentado no sofá, assistia à programação televisiva. Tinha tomado café há pouco, deixado a louça na pia, e me encontrava desatento aos detalhes. Eu estava sozinho. O calor do dia começava a crescer, quando um vento forte passou de canto a canto no ambiente. Todos os objetos silenciaram, eu me vi de fora e percebi. Eu era imaterial. Entretanto, meu corpo lá estava posicionado da mesma maneira que meu pai quando passava as manhãs de domingo em minha casa. Aquela imagem me interessou tanto, eu não conseguiria precisar a razão, que resolvi eternizá-la. Eu tinha uma quantidade enorme de pregos, centenas que achei que nunca usaria. Então caminhei ao fundo do quintal e voltei munido do material necessário: um martelo e a sacola de pregos. – tratei também de deixar por escrito alguns direcionamentos para a ação posterior. Exaustivamente, finquei um a um em toda a minha estrutura. A imagem se fixou, se tornara permanente enquanto eu-corpo desfazia. “Descartar os ossos; recolher e armazenar os pregos em seu estado de ferrugem; fotografar” era o que eu tinha anotado no pequeno pedaço de papel. Orientações que foram de fato seguidas à risca por um admirador de meu trabalho.
Quando Arthur Bispo do Rosário um dia simplesmente apareceu no mundo, eu perdi as minhas palavras. Os objetos, que antes tinham recebido o destino do silêncio, agora dispunham na superfície a impregnação do que, de mim, naquele momento tinha desaparecido. Quando o humano estabeleceu o ser das coisas na linguagem, e quando necessitou funcionalidade nelas, o vento soprou calando-as. O resgate só foi possível através de um algo que nunca conseguimos nos livrar: pela Arte. Ela não possui ser nem função, porém se ativa e se desativa na natureza, permeia todas as dimensões possíveis. É evidente que, fora da produção de Bispo, coisas outras já tinham retomado suas vozes. Se hoje escrevo acerca disso, é porque foi no primeiro, segundo, terceiro, em todos os contatos que tive com o seu trabalho que experienciei o grau zero de minha expressão verbal. Ali era o lugar de tudo, inclusive o sítio das minhas palavras. Tentar recuperá-las, ou melhor, tomá-las de empréstimo, nunca foi fácil. Como não está sendo agora. Imagino que a causa disso seja o fato de que ele não admitia se separar de qualquer criação sua. O que construiu, de certa maneira, se apropria dos meus elementos de comunicação não-visual. Diante dele eu não posso falar.
Mestre, hoje não fui forte. Porém sei que por compreender minha fraqueza decidi cuidar de mim. Socialmente não tem sido fácil. Muitas vezes me vejo em ambientes que eu não queria estar. Agora, ao mesmo tempo em que sei que fiz a melhor escolha de ter voltado para o meu lugar de conforto, sinto um peso enorme por me mostrar tão transparente aos outros. Dê-me forças, mestre. Eu preciso lidar com minhas inquietações.


Tantas vezes relutei a ideia de contar o ocorrido. E se passaram alguns anos desde a primeira tentativa de registrar. O que lembro é que era uma manhã de domingo e eu, sentado no sofá, assistia à programação televisiva. Tinha tomado café há pouco, deixado a louça na pia e me encontrava desatento aos detalhes. Eu estava sozinho em casa. O calor do dia começava a crescer, quando um vento forte passou no ambiente de canto a canto. Todos os objetos silenciaram, eu me vi de fora e percebi: eu era imaterial. Entretanto, vi que meu corpo lá estava posicionado da mesma maneira que meu pai quando passava as manhãs de domingo por aqui. Aquela imagem me interessou tanto, e eu não conseguiria precisar a razão, que resolvi eternizá-la. Eu tinha uma quantidade enorme de pregos, centenas que eu achei que nunca usaria. Assim, caminhei ao fundo do quintal e voltei munido do material necessário: um martelo e uma sacola com os pregos. – tratei também de deixar por escrito alguns direcionamentos para a ação posterior. Exaustivamente finquei um a um em toda a minha estrutura. Lágrimas saíam de minha pele com mais rapidez a cada novo furo. Uma hora a imagem tinha se fixado, se tornara permanente enquanto eu-corpo se desfazia aos poucos. “Descartar os ossos; recolher e armazenar os pregos em seu estado de ferrugem; fotografar” era o que tinha anotado no pequeno pedaço de papel. Orientações que foram de fato seguidas à risca por um admirador de meu trabalho.
Quando Arthur Bispo do Rosário um dia simplesmente apareceu no mundo, eu perdi as minhas palavras. Quando eu nasci ele já era o todo de sua história. Os objetos, que antes tinham recebido o destino do silêncio, agora dispunham a impregnação do que, de mim, tinha desaparecido. Quando o humano instituiu o ser das coisas na linguagem, e quando necessitou funcionalidade nelas, o vento soprou calando-as. O resgate só foi possível unicamente através de um algo que não mais conseguimos nos livrar: Arte. Ela não possui ser nem utilidade, porém se ativa e se desativa na natureza, permeia as dimensões possíveis. É evidente que, fora da produção de Bispo, coisas outras já tinham retomado a capacidade de manifestar-se. Se hoje escrevo acerca disso, é porque foi na primeira, na segunda, na terceira, em todas as circunstâncias em que tive contato com o seu trabalho que experienciei o grau zero de minha expressão verbal. Ali era o lugar de tudo, inclusive o sítio das minhas palavras. Tentar recuperá-las, ou melhor, tomá-las de empréstimo, posteriormente não foi fácil. Assim como não está sendo agora. Imagino que a causa disso seja o fato de que ele não admitia se separar de qualquer criação sua. O que construiu, de certa maneira, constantemente se apropria de minha voz. Diante dele eu não posso falar.
Nós artistas, em singulares momentos, nos deparamos com o alheio que gostaríamos de ter feito. Se a inveja não nos torna seres desprezíveis, nomeamos o/a Mestre. Essa classificação também pode nos indicar aquele/a com quem aprendemos, instrutor/a de nossa construção. Entretanto, engendramos criaturas descontroladas que traçam seus destinos e que ensinam, muito provável, com potência superior ao próprio criador. No caso de Bispo, sua obra me educou tanto que, evidentemente, não consegui passar por ela ileso. Conheci os objetos antes do autor. Caí na ilusão de achar que, por escrito, documentaria a experiência antes de ler qualquer material sobre ele. O fato é que quanto mais pensamos conhecê-lo como indivíduo mais fundo mergulhamos em seu oceano mitopoético. Uma constante é que retorno aos objetos e revejo minhas palavras marchando em direção a eles, se ausentando de meu domínio.
No primeiro ato estava em um parque cheio de estátuas, e eram homens nus que tinham que ficar imóveis todo o tempo. Eu também era uma das estátuas. Eu sabia que se me movesse, receberia uma grave punição, porque nosso mestre e senhor nos olhava pessoalmente. Sentia o frio gélido que saía do pedestal de mármore, enquanto as folhas do outono caíam sobre meus braços e corpo. Eu não me movia. Mas quando senti que não resistiria, eu acordei. Eu tinha medo, porque entendi que não era um sonho, mas a minha realidade. /1/.
/1/ Trecho de Nostalgia de Andrei Tarkovsky, 1983. Filme legendado por Aysenur Alkiliç e Alain Leroy.
/Imagem/ Texto/ Lucas Alves, 2019.
Mármore de Siso
13 de julho, 2019